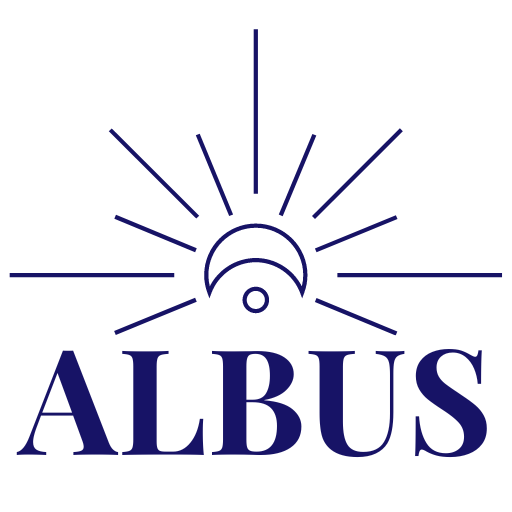A pequena Jannita estava sentada sozinha ao lado de um arbusto de avelós. À sua frente e atrás dela estendia-se a planície, coberta de areia vermelha e dos arbustos espinhosos do karoo; e aqui e ali um arbusto de avelós, que mais parecia um feixe de varas verde-claras atadas umas às outras. Não se via uma árvore em lado algum, exceto nas margens do rio, que era muito longe, e o sol batia-lhe à cabeça. À sua volta, alimentavam-se as cabras angorás que ela pastoreava; criaturinhas bonitas, sobretudo as menores, com seus cachos brancos e sedosos que tocavam o chão. Mas Jannita estava sentada chorando. Se um anjo juntasse em sua taça todas as lágrimas que já foram derramadas, creio que as mais amargas seriam as das crianças.
Pouco a pouco sentiu-se tão cansada, e o sol estava tão quente, que encostou a cabeça ao arbusto de avelós e adormeceu.
Teve um sonho lindo. Pensou que ao regressar à casa da fazenda à noite, as paredes estavam cobertas de trepadeiras e rosas, e os kraals não eram feitos de pedra vermelha, mas de lilases em flor. E o velho e gordo bôer sorria para ela; e o cajado que ele segurava na porta, para as cabras saltarem, era uma vara de lírios com sete flores na ponta. Quando ela ia para casa, a patroa dava-lhe um bolo inteiro para o jantar, e a filha da patroa havia espetado uma rosa no bolo; e o genro da patroa dizia: “Obrigado!” quando ela lhe descalçava as botas, e não lhe dava um pontapé.
Era um sonho lindo.
Enquanto estava a sonhar, um dos cabritos veio lamber-lhe a face, por causa do sal das suas lágrimas secas. E, em seu sonho, ela já não era uma pobre criada, vivendo com os bôeres. Era seu pai que a beijava. Ele dizia que só havia adormecido – naquele dia em que se deitara debaixo do espinheiro; não havia morrido realmente. Passava-lhe a mão no cabelo e dizia que estava comprido e sedoso, e dizia que agora iam voltar para a Dinamarca. Perguntava-lhe por que tinha os pés descalços e o que eram as marcas em suas costas. Depois punha a cabeça dela em seu ombro, pegava-a no colo e a levava para longe, para longe! Ela riu – podia sentir seu rosto contra a barba castanha dele. Os braços dele eram tão fortes.
Enquanto ela estava deitada a sonhar, com as formigas correndo sobre os seus pés nus e com os seus cachos castanhos espalhados na areia, um Hottentot aproximou-se dela. Estava vestido com umas calças amarelas esfarrapadas, uma camisa suja e um casaco rasgado. Tinha um lenço vermelho à volta da cabeça e um chapéu de feltro por cima. O nariz era achatado, os olhos pareciam fendas e seus cabelos lanosos estavam arrumados em pequenas bolas redondas. Chegou ao arbusto de avelós e olhou para a menina deitada sob o sol quente. Depois, afastou-se e apanhou uma das cabras angorás mais gordas, segurando-lhe a boca e enfiando-a debaixo do braço. Olhou para trás para ver que ela ainda estava dormindo e saltou para uma das valas. Desceu um pouco o leito do riacho e chegou a uma margem saliente, debaixo da qual, sentados na areia vermelha, estavam dois homens. Um deles era um velho Bushman, pequeno e esfarrapado, com um metro e meio de altura; o outro era um marinheiro inglês, usando uma camisa azul escura. Cortaram a garganta do cabrito com o facão do marinheiro, cobriram o sangue com areia e enterraram as entranhas e a pele. Então puseram-se a conversar e discutiram um pouco; e então voltaram a conversar calmamente.
O homem Hottentot meteu uma perna do cabrito debaixo do casaco e deixou o resto da carne para os dois na vala, e foi-se embora.
Quando a pequena Jannita acordou já era quase pôr do sol. Sentou-se muito assustada, mas as suas cabras estavam todas à sua volta. Começou a levá-las para casa. “Acho que não há nenhuma perdida”, disse ela.
Dirk, o Hottentot, já tinha trazido o seu rebanho para casa e estava à porta do kraal com as suas calças amarelas esfarrapadas. O velho e gordo bôer pôs o seu cajado na porta e deixou as cabras de Jannita saltarem, uma a uma. Ele contou-as. Quando a última saltou: “Estiveste dormindo hoje?”, disse ele; “falta uma”.
Então a pequena Jannita soube o que estava por vir e disse, em voz baixa, “Não”. E depois sentiu no coração aquela náusea mortal que se sente quando se diz uma mentira; e voltou a dizer: “Sim”.
“Achas que vais ter janta esta noite?”, disse o bôer.
“Não”, disse Jannita.
“O que é que achas que vais ter?”
“Eu não sei”, disse Jannita.
“Dá-me o teu chicote”, disse o bôer a Dirk, o Hottentot.
***
A lua estava quase cheia nessa noite. Ah, mas a sua luz era linda!
A menina aproximou-se da porta da dependência onde dormia e olhou para ela. Quando se tem fome e se está muito, muito dolorido, não se chora. Apoiou o queixo numa mão e olhou com os seus grandes olhos de pomba – a outra mão estava cortada, assim, a envolveu em seu avental. Olhava para a planície, para a areia e para os arbustos baixos do karoo, com o luar a incidir sobre eles.
Logo, veio lentamente, de muito longe, um antílope selvagem. Aproximou-se da casa e ficou olhando para ela com admiração, enquanto o luar brilhava em sua galhada e nos seus grandes olhos. Ficou olhando para as paredes de tijolo vermelho, e a menina observando-o. Depois, subitamente, como se desprezasse tudo, curvou o seu belo dorso e virou-se; e fugiu por entre os arbustos e a areia, como um relâmpago branco e brilhante. Ela levantou-se para o observar. Tão livre, tão livre! Longe, longe! Ficou observando, até não o ver mais na planície.
O seu coração encheu-se, maior, maior, maior: deu um grito baixo; e sem esperar, sem parar, sem pensar, seguiu o rasto do antílope. Longe, longe, longe! “Eu– eu também!”, disse ela, “eu– eu também!”
Quando finalmente as suas pernas começaram a tremer e ela parou para respirar, a casa era um vestígio atrás dela. Deixou-se cair na terra e segurou as costelas ofegantes.
Então começou a pensar.
Se ela ficasse na planície, de manhã, eles iriam seguir as suas pegadas e capturá-la; mas se ela entrasse na água, no leito do rio, eles não conseguiriam encontrar as suas pegadas; e ela esconder-se-ia, lá onde estavam as rochas e os kopjes.
Então ela levantou-se e caminhou em direção ao rio. As águas do rio estavam baixas; apenas uma linha prateada no leito largo de areia, aqui e ali alargando-se numa piscina. Ela entrou e banhou os pés na água deliciosamente fria. Subiu e subiu o riacho, onde ele se movia sobre os seixos, e passou por onde ficava a casa da fazenda; e onde as rochas eram grandes, saltou de uma para a outra. O vento noturno contra seu rosto lhe dava forças – ela ria-se. Nunca tinha sentido tal vento noturno. Assim cheira a noite para os corços selvagens, porque são livres! Um ser livre sente o que um ser acorrentado nunca pôde.
Por fim, chegou a um lugar onde os salgueiros cresciam de cada lado do rio e arrastavam os seus longos ramos no leito arenoso. Ela não sabia dizer por que, não sabia dizer o motivo, mas um sentimento de medo apoderou-se dela.
Na margem esquerda, erguia-se uma cadeia de kopjes e um precipício de rochas. Entre o precipício e a margem do rio, havia um caminho estreito coberto por fragmentos de rocha caída. E no cume do precipício crescia uma árvore de kippersol, cujas folhas, semelhantes a palmeiras, se destacavam claramente contra o céu noturno. As rochas e os salgueiros, de cada lado do rio, faziam uma sombra profunda. Ela parou, olhou para cima e à sua volta, e depois continuou a correr, com medo.
“De que é que eu tinha medo? Como fui tola!”, disse ela, quando chegou a um local onde as árvores não estavam tão próximas umas das outras. E parou e olhou para trás e tremeu.
Por fim, seus passos foram-se tornando cada vez mais cansativos. Estava então com muito sono, mal conseguindo levantar os pés. Caminhou para fora do leito do rio. Apenas viu que as rochas à sua volta eram selvagens, como se muitos pequenos kopjes tivessem sido partidos e espalhados pelo chão, deitou-se ao pé de uma babosa e adormeceu.
***
Mas, de manhã, viu que era um lugar glorioso. As rochas estavam empilhadas umas sobre as outras como que atiradas para um lado e para o outro. Entre elas, cresciam figos-da-índia e havia não menos que seis árvores de kippersol espalhadas aqui e ali entre os kopjes quebrados. Nas rochas havia centenas de tocas para os coelhos, e das fendas pendiam aspargos selvagens. Ela correu para o rio, banhou-se na água límpida e fria e jorrou-a sobre a cabeça. Cantava em voz alta. Todas as canções que conhecia eram tristes, por isso não as podia cantar agora, estava contente, estava tão livre; mas cantava as notas sem as palavras, como fazem os galos. Cantando e saltitando durante todo o caminho, voltou para trás, pegou numa pedra afiada, cortou a raiz de um kippersol e arrancou um pedaço grande, do tamanho do seu braço, e sentou-se para mascá-lo. Dois coelhos apareceram na rocha acima da sua cabeça e espreitaram-na. Ela estendeu-lhes um pedaço, mas eles não o quiseram e fugiram.
A raiz era deliciosa para ela. O Kippersol é como marmelo cru, quando está muito verde; mas lhe agradava. Quando comida boa nos é atirada por outrem, estranhamente, é muito amarga; mas aquilo que encontramos nós mesmos, é doce!
Quando acabou, arrancou outro pedaço e foi procurar uma despensa onde o colocar. No cimo de um monte de rochas, para onde subiu, descobriu que algumas pedras grandes estavam separadas, mas que se encontravam no topo, formando uma lapa.
“Ah, esta é a minha casinha!”, disse ela.
Em cima e nas laterais era abrigada, somente a frente era aberta. Havia uma bela prateleira na parede para o kippersol, e ela desceu novamente. Trouxe um grande ramo de figo-da-índia e enfiou-o numa fenda diante da porta, e pendurou aspargos selvagens por cima, até parecer que cresciam ali. Ninguém podia ver que havia ali um cômodo, porque ela deixou apenas uma pequena abertura e pendurou nela um ramo de aspargos emplumados. Depois, entrou engatinhando para ver como ficara. Havia uma luz verde suave e gloriosa. Depois, saiu e apanhou algumas daquelas pequenas flores roxas selvagens – nós as conhecemos – que se mantêm voltadas para o chão, mas quando as levantamos e olhamos para elas, são olhos azuis profundos olhando para nós! Apanhou-as com um pouco de terra e colocou-as nas fendas entre as rochas; e assim o quarto ficou mobilado. Depois, foi até ao rio e trouxe os braços cheios de ramos de salgueiro, e fez uma bela cama; e, como o tempo estava muito quente, deitou-se para descansar nela.
Adormeceu logo e dormiu muito tempo, pois estava muito fraca. Ao fim da tarde, foi acordada por umas gotas frias que lhe caíam no rosto. Sentou-se. Uma grande e violenta trovoada estava caindo, e algumas das gotas frias haviam escorrido pela fenda das rochas. Empurrou o ramo de aspargos para o lado e olhou para fora, com as mãozinhas dobradas sobre os joelhos. Ouviu o trovão e viu as torrentes vermelhas correrem entre as pedras a caminho do rio. Ouviu o rugido do rio que agora rolava, furioso e vermelho, arrastando cepos e árvores nas suas águas lamacentas. Escutou e sorriu, e aproximou-se mais da rocha que lhe cuidava. Encostou-lhe a palma da mão. Quando não se tem ninguém que nos ame, amamos muito as coisas inanimadas. Quando o sol se pôs, o céu clareou. Então a menina comeu um pouco de kippersol e deitou-se novamente para dormir. Ela achava que não havia nada tão bom quanto dormir. Quando não se comeu nada a não ser sumo de kippersol durante dois dias, não se tem muita força.
“Aqui é tão bom”, pensou ela enquanto adormecia, “vou ficar aqui para sempre”.
Depois, a lua nasceu. O céu estava muito limpo agora, não havia uma nuvem em lado algum; e a lua brilhava através dos ramos na entrada, e fazia uma rede de luz no rosto da menina. Ela estava sonhando um sonho lindo. Os sonhos mais lindos são sonhados quando se tem fome. Pensou que estava passeando num lugar lindo, segurando a mão do pai, e ambos tinham coroas na cabeça, coroas de aspargos selvagens. As pessoas por quem passavam sorriam e beijavam-na; algumas davam-lhe flores, outras davam-lhe comida, e a luz do sol estava por todo o lado. Ela sonhava sempre o mesmo sonho, que se tornava cada vez mais belo, até que, de repente, lhe pareceu que estava sozinha. Olhou para cima: de um lado estava o precipício alto, do outro o rio, com os salgueiros, que deixavam cair os seus ramos na água; e o luar pairava sobre tudo. Lá em cima, contra o céu noturno, as folhas pontiagudas dos kippersol estavam demarcadas, e as rochas e os salgueiros faziam sombras escuras.
No seu sono, ela estremeceu e meio acordou.
“Ah, eu não estou lá, estou aqui”, disse ela; e aproximou-se da rocha, beijou-a e adormeceu novamente.
Deviam ser cerca de três horas, pois a lua começava a descer para o céu a oeste, quando ela acordou, com um violento sobressalto. Sentou-se e encostou a mão ao coração.
“O que é que pode ser? Um coelho deve ter-me passado sobre os pés e assustou-me!”, disse ela, e virou-se para se deitar de novo; mas logo se sentou. Do lado de fora, ouvia-se o som distinto de espinhos estalando numa fogueira.
Ela arrastou-se até à porta e fez uma abertura nos ramos com os dedos.
Uma grande fogueira estava ardendo na sombra, ao pé das rochas. Um pequeno Bushman estava curvado sobre algumas brasas que tinham sido retiradas da fogueira, cozinhando carne. Estendido no chão estava um inglês, vestido com uma camisa, e com uma expressão pesada e sombria. Na pedra ao lado dele estava Dirk, o Hottentot, afiando um facão.
Ela susteve a respiração. Nenhum coelho em todas as rochas estava tão quieto quanto ela.
“Eles nunca me vão encontrar aqui”, disse ela; e ajoelhou-se, e ouviu cada palavra que eles diziam. Ela conseguia ouvir tudo.
“Podem ficar com todo o dinheiro”, disse o Bushman; “mas eu quero o barril de conhaque. Vou incendiar o telhado em seis lugares, porque um holandês uma vez queimou a minha mãe viva numa cabana, com três crianças”.
“Tens a certeza de que não há mais ninguém na fazenda?”, disse o marinheiro.
“Não, já te disse até cansar”, disse Dirk; “Os dois Kaffirs foram com o genro para a cidade; e as criadas foram a um baile; só restam o velho e as duas mulheres.”
“Mas suponhamos”, disse o marinheiro, “que ele tem a arma à sua cabeceira, e carregada!”
“Nunca tem”, disse Dirk; “está pendurada no corredor, e os cartuchos também. Ele nunca pensou, quando a comprou, para que é que ela servia! Eu só queria que a menina branca ainda estivesse lá também,” disse Dirk; ”mas ela afogou-se. Seguimos as suas pegadas até a grande piscina que não tem fundo”.
Ela ouvia cada palavra, e eles continuaram a conversar.
Depois, o pequeno Bushman, que estava de cócoras sobre a fogueira, sentou-se de repente, alerta.
“Ha! O que é isso?”, disse ele.
Um Bushman é como um cão: o seu ouvido é tão fino que distingue o passo de um chacal do de um cão selvagem.
“Não ouvi nada”, disse o marinheiro.
“Eu ouvi”, disse o Hottentot; “mas era apenas um coelho nas rochas”.
“Não é um coelho, não não”, disse o Bushman; “vê, o que é aquilo a mexer-se na sombra à volta do cimo?”
“Nada, seu idiota!”, disse o marinheiro. “Acaba de comer; temos de pegar estrada agora.”
Havia duas estradas para a fazenda. Uma corria ao longo da planície aberta, e era a mais curta; mas podia ser vista a meia milha de distância. A outra corria ao longo da margem do rio, onde havia pedras, buracos e salgueiros para servir de esconderijo. E ao longo da margem do rio corria uma pequena figura.
O rio estava cheio até às margens devido à tempestade, e os salgueiros mergulhavam os seus ramos meio afogados na água. Onde quer que houvesse um espaço entre eles, via-se o rio correr, vermelho e lamacento, com os troncos por cima. Mas a pequena figura corria sem parar, sem olhar, sem pensar, ofegante, ofegante! Ali, onde as rochas eram mais espessas; ali, onde no espaço aberto brilhava o luar; ali, onde os figos-da-índia se emaranhavam e as rochas faziam sombra, corria; as mãozinhas apertadas, o coraçãozinho a bater, os olhos sempre em frente.
Já não era preciso correr muito. Apenas o caminho estreito entre as rochas altas e o rio.
Por fim, chegou ao fim do caminho e parou por um instante. Diante dela estava a planície, e a casa vermelha da fazenda, tão perto, que se houvesse pessoas caminhando por ali, seriam visíveis ao luar. Ela apertou as mãos. “Sim, vou avisá-los, vou avisá-los!”, disse ela; “Estou quase lá!” Correu de novo para a frente, depois hesitou. Protegeu os olhos do luar e olhou. Entre ela e a casa da fazenda, três figuras moviam-se por entre os arbustos baixos.
Ao luar, era possível ver como se moviam, lenta e furtivamente; o mais baixo, o de roupa clara e o de roupa escura.
“Agora não os posso ajudar!”, clamou ela, e afundou-se no chão, com as mãozinhas apertadas à sua frente.
***
“Acorda, acorda!”, disse a mulher do fazendeiro; “Estou ouvindo um barulho estranho; uma voz chamando, chamando, chamando!”
O homem levantou-se e foi até à janela.
“Também estou ouvindo”, disse ele; “certamente algum chacal está atacando as ovelhas. Vou carregar a minha arma e vou ver.”
“Não parece-me o grito de nenhum chacal”, disse a mulher; e quando ele foi embora, acordou a filha.
“Vem, vamos acender o fogo, não consigo dormir mais”, disse ela; “ouvi uma coisa estranha essa noite. O teu pai disse que era o grito de um chacal, mas nenhum chacal grita assim. Era a voz de uma criança e gritava: ‘Mestre, mestre, acorda!’”
As mulheres olharam uma para a outra; depois foram para a cozinha e fizeram um grande fogo; e cantaram salmos.
Por fim, o homem voltou e elas perguntaram-lhe: “O que é que viste?” “Nada”, disse ele, “a não ser as ovelhas dormindo nos seus kraals, e o luar nos muros. E, no entanto, pareceu-me”, acrescentou, “que ao longe, perto do krantz, junto ao rio, vi três figuras se movendo. E depois – pode ter sido fantasia – pensei ter ouvido o grito novamente; mas desde então, tudo ficou parado lá.”
***
No dia seguinte, um marinheiro tinha regressado às obras da ferrovia.
“Onde estiveste tanto tempo?”, perguntaram os seus camaradas.
“Ele está sempre olhando por cima do ombro”, disse um, “como se pensasse que devia ver alguma coisa ali”.
“Hoje, quando foi beber aguardente”, disse outro, “deixou-o cair e olhou em volta.”
No dia seguinte, um pequeno e velho Bushman e um Hottentot, com calças amarelas esfarrapadas, estavam numa cantina à beira do caminho. Depois de o Bushman ter bebido conhaque, começou a contar como algo (não disse se era homem, mulher ou criança) tinha levantado as mãos e clamado por misericórdia; tinha beijado as mãos de um homem branco e clamado para que ele lhe ajudasse. Então o Hottentot agarrou o Bushman pelo pescoço e arrastou-o para fora.
Na noite seguinte, a lua ergueu-se e subiu ao céu calmo. Agora era cheia, e olhou para a pequena casa; para as flores roxas espalhadas pelo cômodo e para o kippersol na prateleira. A sua luz incidia sobre os salgueiros, sobre os rochedos altos e sobre um pequeno monte de terra e de pedras redondas recém feito. Três homens sabiam o que estava debaixo dele; e ninguém mais nunca saberá.